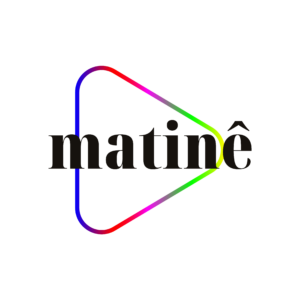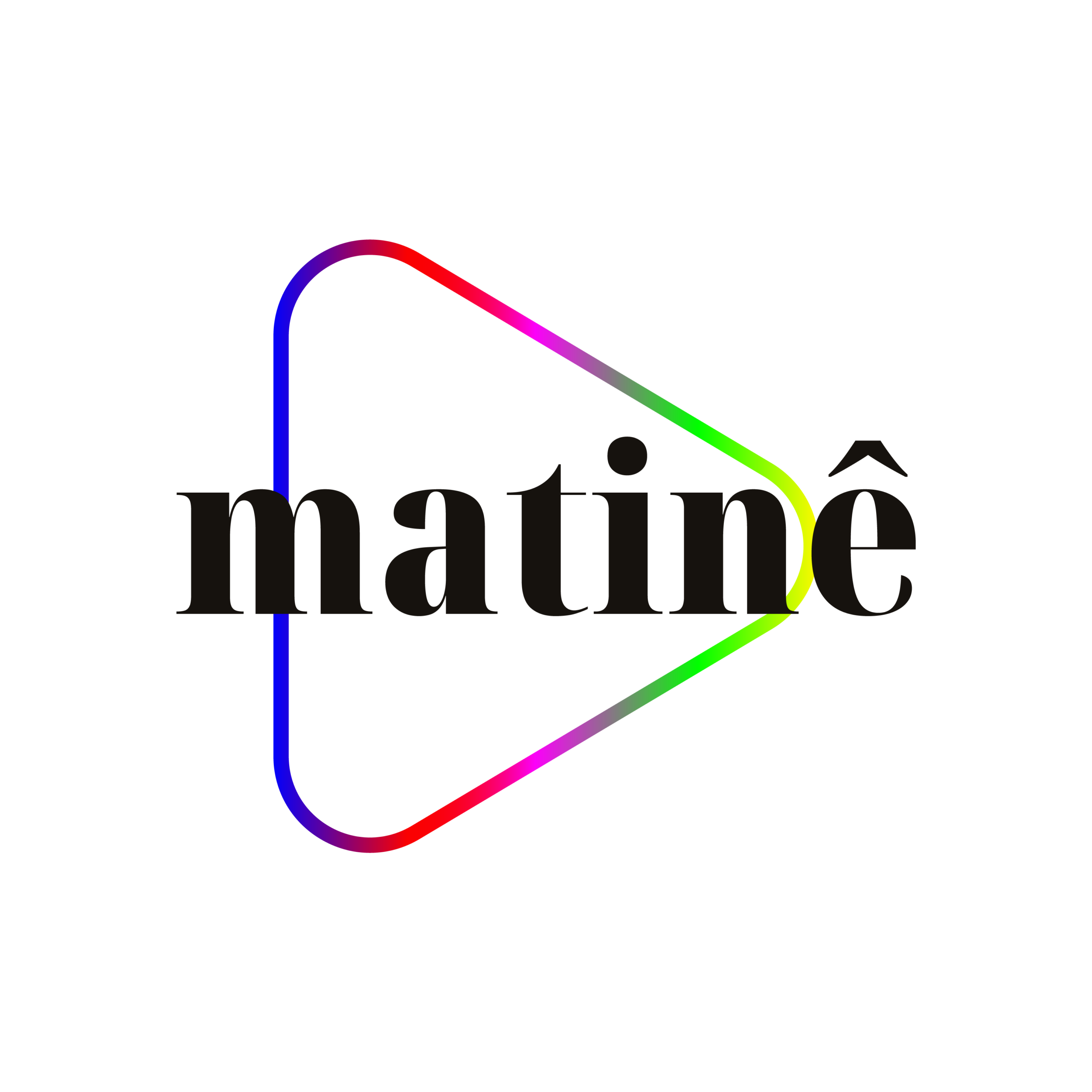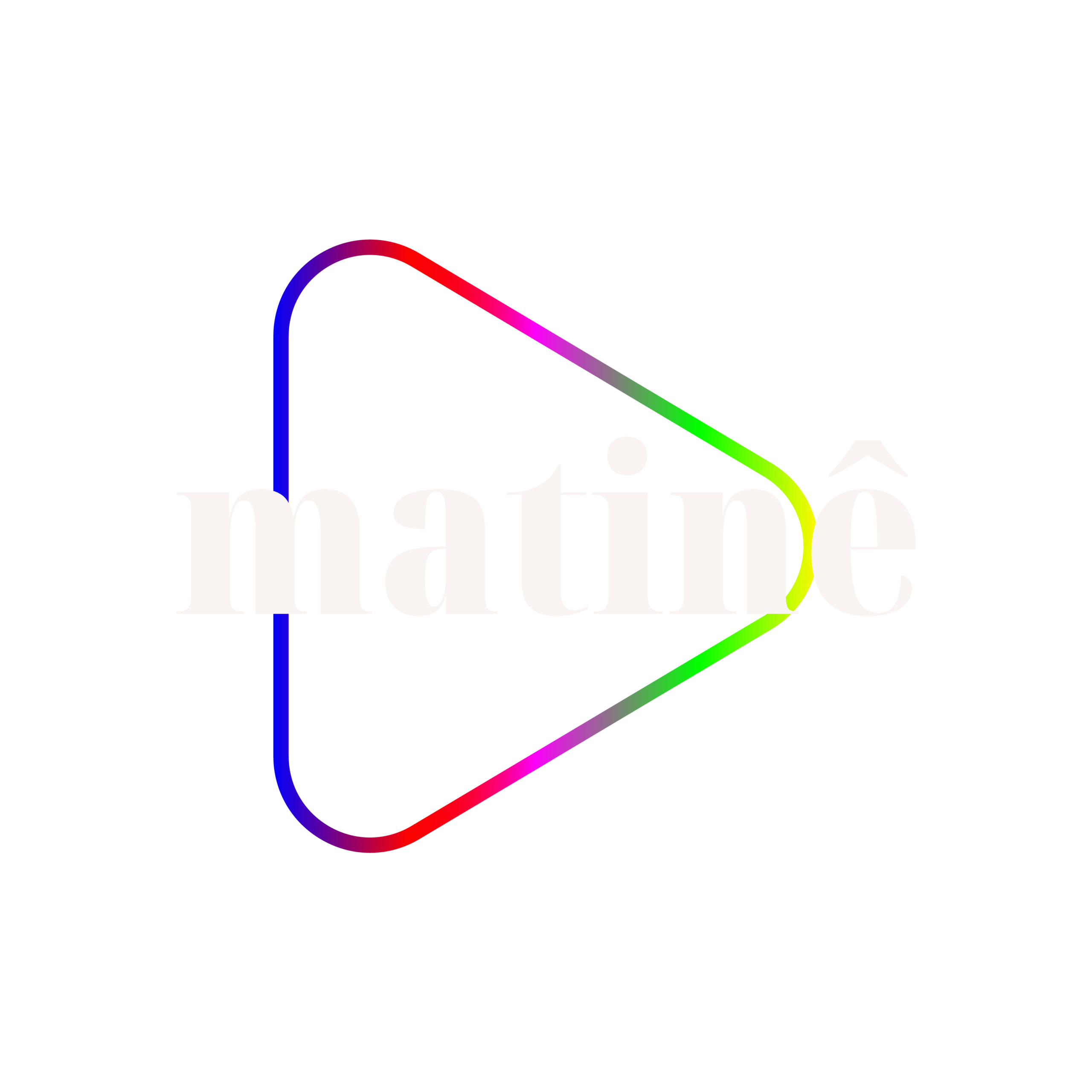Vivemos em tempos em que os produtos feitos para a televisão e cinema alternam entre entretenimento puro ou uma tentativa de construir algo de qualidade com rótulo de obra de arte. É difícil, porém, algo se dedicar como um serviço público ao mesmo tempo em que consegue respeitar o seu espectador, garantindo uma obra primorosa que mostre a realidade como ela é, através de uma ótica diferenciada sem perder o valor de entretenimento, mas garantindo de fato uma obra artística irretocável. A junção de todos esses elementos tornou-se possível graças a Bruce Miller, criador da primorosa e até o momento irretocável The Handmaid’s Tale.
A TV e o cinema sempre demonstraram extremo prazer em destruir a humanidade em situações catastróficas, seja com invasões alienígenas ou o tradicional apocalipse zumbi. Porém, e indo totalmente ao contrário disso, a distopia (originalmente criada por Margaret Atwood em O Conto da Aia) trata-se de um retrocesso na comunidade estadunidense, agora conhecida como a República de Gilead. O lugar, comandado por um regime totalitarista de imperativo religioso, faz, quase, uma viagem no tempo. Digo isso, pois a história da humanidade traz a figura da mulher sempre lutando pelos seus direitos e aos poucos conquistando aquilo que realmente deve e merece ter em suas vidas. Mas, e se um dia, de forma repentina, tudo isso fosse tirado das mulheres? E se elas não pudessem mais trabalhar? Votar? Sair na rua e serem respeitadas? E se essas mulheres fossem submetidas a apenas três “funções”: servir, reproduzir e obedecer? Este é o alicerce de The Handmaid’s Tale.
O programa acompanha a jornada de Offred, vivida brilhantemente por Elizabeth Moss (que se não ganhar o Emmy deste ano, e quem sabe até o próximo Globo de Ouro, será mais uma esnobada histórica das premiações). A personagem narra, relembra e mostra os acontecimentos, e obviamente é quem movimenta toda a história. Para The Handmaid’s Tale não basta apenas explicar os novos conceitos da sociedade, é preciso mostrar como tudo acontece e como tudo mudou, e é com a protagonista que o público é apresentado às crueldades viscerais que as Aias, ou escravas sexuais, são submetidas diariamente.

The Handmaid’s Tale é chocante com as palavras, mas é muito mais impactante quando nos priva dos diálogos marcantes para mostrar a nova vida dessas mulheres, que todos os meses deitam-se em frente ao ventre de suas Senhoras, abrem as pernas para os seus Senhores e permitem-se serem estupradas, pois esta é a única opção que é dada ao que resta das mulheres férteis – isso pode até soar estranho, mas é que realmente acontece. Reclusas a qualquer envolvimento emocional com qualquer outra pessoa, as Aias ganham vitalidade com o retrato construído por Elizabeth Moss. A atriz realiza aqui cenas que precisam ser vistas, mas, além disso, Moss faz dos seus olhos o maior reflexo de tudo aquilo que é guardado, engolido e suportado por todas as Aias. Além dela, estão também Alexis Bledel vivendo a enigmática e igualmente traumatizada Offglen e a desnorteada e também traumatizada Janine (Madeline Brewer, a Tricia de Orange is the New Black). Ao lado de Samira Wiley, as três reproduzem esse mesmo retrato pesado e cruel, porém, em diferentes situações.
Ainda é importante ressaltar, que na maioria dos casos, as escravas sexuais são objeto de desejo dos seus comandantes e acabam sendo ludibriadas ao acreditar que estes homens fugiriam com elas e dariam de volta a sua liberdade, algo que acrescenta ainda mais crueldade a trama do programa.
Apesar de tudo isso, The Handmaid’s Tale não se faz apenas com o roteiro primoroso acompanhado pela autora da obra original. É preciso ressaltar também a excelência técnica do programa. Como se trata, na verdade, de um retrocesso social e idealista, The Handmaid’s Tale faz com que tudo fique de acordo com o seu tema, a fotografia, a cinematografia, o design de produção, a direção de arte e toda a composição da mise-em-scène falam, gritam e exaltam tudo do que a série se trata. Desde a opressão do novo sistema de governo, até mesmo a dor e tristeza das personagens, podem ser vistos em todo o ambiente da série.

The Handmaid’s Tale se faz importante em todos os aspectos possíveis ao longo dos seus 10 episódios. A série narra muito bem a história que se propõe a criar na primeira temporada e usa com total sabedoria os flashbacks, que mostram a origem das mudanças junto, também, de acontecimentos importantes e igualmente impactantes para a vida do núcleo principal – por exemplo, as cenas do protesto, que mostram o início desse modo opressor de tratar as pessoas.
É incrível, e também admirável, a preocupação de Bruce Miller (criador da série) em apresentar uma primeira temporada tão completa como esta. Assim, o também produtor executivo não se prende a ideia de deixar “algumas coisas” para a próxima temporada, pelo menos nada além do necessário. O roteiro acerta em cheio em sua coesão, explica a história, as motivações que construíram essa mudança e não deixa de lado o desenvolvimento de todos os personagens. Chama à atenção, dentro disso, a dualidade ideológica do que seriam, a grosso modo, os antagonistas (sendo O Comandante vivido por Joseph Fiennes, Serena Joy interpretada por Yvonne Strahovski e Tia Lydia vivida por Ann Dowd os melhores exemplos). Os personagens ganham um background interessante, fazendo o público entender os motivos pelos quais agem daquela maneira, o que não significa que o espectador sinta-se capaz de perdoá-los por aquilo que fizeram, pois mesmo dando essas camadas aos personagens elas (suas ações e motivações) não se justificam como “certas” ao entendimento alheio.
The Handmaid’s Tale está longe de ser uma série fácil de entender. Ao contrário disso, o charme encantador e avassalador do programa está em sua complexidade, ou naquilo que ele quer dizer e que não está nas palavras ditas pelos personagens, mas que pode ser encontrado em seus gestos, suas ações e suas expressões. De fato não há nada mais prazeroso do que uma obra visualmente impecável e de um refinamento estético que nem mesmo o cinema, como arte, às vezes consegue criar. Entretanto, acima disso está o (sub)texto primoroso da obra, que a faz ser, pelo menos na TV americana, a mais relevante e importante do ano – assim como Mulher-Maravilha está sendo.

Não é um erro, muito menos um equívoco, afirmar que temos aqui (em The Handmaid’s Tale) a melhor série de 2017. Isso não se determina por ter um episódio espetacular no meio de uma boa temporada. Uma afirmação como essa só pode ser sugerida, ou devidamente afirmada, depois de um certo tempo de êxtase, reflexão e análise de todo o conjunto da obra. Assim, com sua narrativa complexa e completa, um roteiro, elenco e atuações primorosos, The Handmaid’s Tale consagra a sua primeira temporada como a melhor, de uma série estreante, em 2017, ressaltando o seu valor de produção artístico que deve ser destaque nas premiações mais importantes da TV americana, o que deve garantir o destaque que a série realmente merece.
Elizabeth Moss é o grande nome do programa, a atriz constrói com empenho sua personagem e entrega ao público uma das melhores atuações do ano na TV, merece todos os prêmios que deve disputar, mas acima disso é preciso reconhecer que temos aqui o ponto mais alto de sua carreira e isso não pode passar em branco. Depois de The Handmaid’s Tale, o Hulu (serviço de streaming que exibe o programa) também deve ser alavancado e fica a curiosidade pelo que mais o serviço pode trazer para a sua grade. Espera-se que The Handmaid’s Tale seja apenas o começo de uma leva de ótimas produções.
Avaliação
[yasr_overall_rating size=”medium”] (Excelente)